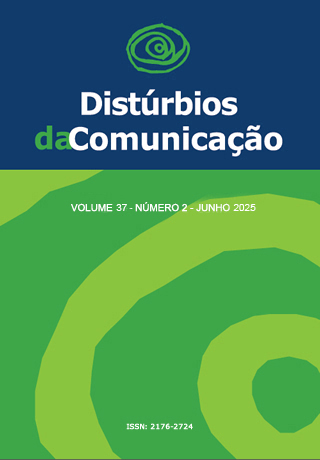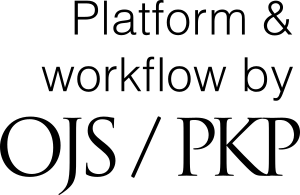O contexto das visitas domiciliares a partir das necessidades de comunicação
uma perspectiva dos profissionais da atenção básica
DOI:
https://doi.org/10.23925/2176-2724.2025v37i2e71303Palavras-chave:
Atenção Primária à Saúde, Visita Domiciliar, Integralidade em Saúde, Linguagem, Barreiras de ComunicaçãoResumo
Introdução: A visita domiciliar é uma estratégia do Sistema Único de Saúde para atender às mudanças nas necessidades de saúde da população brasileira, trazendo desafios, especialmente quando os usuários apresentam necessidades de comunicação. Objetivo: Caracterizar o perfil e a rotina dos profissionais da atenção básica envolvidos em visitas domiciliares em um centro de saúde de um município de grande porte do estado de São Paulo, além de compreender sua perspectiva sobre as necessidades comunicativas dos usuários. Método: Trata-se de um estudo de caráter transversal e qualitativo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas (nº 6.111.895). A amostra incluiu médicos, enfermeiros, técnicos/auxiliares de Enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). A coleta de dados combinou um formulário de caracterização dos entrevistados e entrevistas semiestruturadas analisadas por meio da Análise de Conteúdo Clínico-Qualitativa. Resultados: Os profissionais envolvidos demonstraram uma diversidade de experiências nas visitas domiciliares, destacando a importância dos ACS. As necessidades comunicativas dos usuários variam em tipo e origem, e os profissionais enfrentam dificuldades, adaptando estratégias para atendê-las. Conclusão: A comunicação deve ser central no processo de cuidado no contexto da visita domiciliar, integrando práticas interdisciplinares, considerando determinantes sociais, promovendo o Letramento em Saúde e adotando uma abordagem ampliada que garanta a integralidade e a autonomia do usuário.
Downloads
Referências
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria No 2.436, de 21 de setembro de 2017. Estabelece a revisão de diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sep 21, 2017.
Gonçalves JRL, Gonçalves AR, Silva KL, Contim DC. Assistência domiciliar no Brasil: revisão bibliométrica. Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social. 2017; 5(3): 440.
Bedrikow R, de Sousa Campos GW. Clínica: a arte de equilibrar a doença e o sujeito. Revista da Associação Médica Brasileira. 2011; 57(6): 610–3.
ONU. Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dec 10, 1948.
Brasil. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sep 19, 1990.
Penteado RZ. subjetividade e promoção da saúde na clínica fonoaudiológica. Pró-Fono Rev Atualiz Científ. 2002; 14(1): 61-142.
Bertachini L. A comunicação terapêutica como fator de humanização da Atenção Primária. Mundo Saúde. 2012; 36(3): 507-20.
Sakata KN, Almeida MCP, Alvarenga AM, Craco PF, Pereira MJB. Concepções da equipe de saúde da família sobre as visitas domiciliares. Rev Bras Enferm 2007; 6: 659-64.
Rocha M de A, Barbosa AVR, Franco LMA, Vieira CP de O, Queiroz P dos SS, Matalobos ARL, et al. Visita domiciliar e a importância da equipe multidisciplinar no sistema único de saúde: um relato de experiência. Research, Society and Development. 2022 ;11(3): e40911326871.
Pontes AC, Leitão IMTA, Ramos IC. Comunicação terapêutica em Enfermagem: instrumento essencial do cuidado. Revista Brasileira de Enfermagem. 2008; 61(3):312–8.
Rocha KB, Conz J, Barcinski M, Paiva D, Pizzinato A. A visita domiciliar no contexto da saúde: uma revisão de literatura. Psicologia, Saúde & Doenças 2017; 18(1):170-85.
Minayo MC de S. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. Ciência & Saúde Coletiva [Internet]. 2012; 17(3): 621–6.
Faria-Schützer DB de, Surita FG, Alves VLP, Bastos RA, Campos CJG, Turato ER. Seven steps for qualitative treatment in health research: the Clinical-Qualitative Content Analysis. Ciência & Saúde Coletiva. 2021; 26(1): 265–74.
Nanda P, Lewis TN, Das P, Krishnan S. From the frontlines to centre stage: resilience of frontline health workers in the context of COVID-19. Sexual and Reproductive Health Matters. 2020; 28(1): 1837413.
Boniol M, McIsaac M, Xu L, et al. Gender equity in the health workforce: analysis of 104 countries. Geneva: World Health Organization; 2019.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Atenção Domiciliar na Atenção Primária à Saúde [recurso eletrônico]. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência – Brasília: Ministério da Saúde, 2020.
Siega CK, Vendruscolo C, Zanatta EA. Educação permanente com agentes comunitários de saúde para instrumentalização da visita domiciliar: relato de experiência. Rev Enferm Contemp.2020; 9(1): 94-100.
Lima JG, Giovanella L, Fausto MCR, Almeida PF de. O processo de trabalho dos agentes comunitários de saúde: contribuições para o cuidado em territórios rurais remotos na Amazônia, Brasil. Cadernos de Saúde Pública. 2021; 37(8).
Villas Bôas MLC, Shimizu HE. Tempo gasto por equipe multiprofissional em assistência domiciliar: subsídio para dimensionar pessoal. Acta Paul. Enferm. 2015; 28(1): 32-40.
Campos DB, Bezerra IC, Jorge MSB. Produção do cuidado em saúde mental: práticas territoriais na rede psicossocial. Trabalho, Educação e Saúde [Internet]. 2020; 18(1).
Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal; 1988.
Bertolozzi MR, Nichiata LYI, Takahashi RF, Ciosak SI, Hino P, Val LF do, et al. Os conceitos de vulnerabilidade e adesão na Saúde Coletiva. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2009; 43(spe2): 1326–30.
Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, et al. Health Literacy and Public health: a Systematic Review and Integration of Definitions and Models. BMC Public Health [Internet]. 2012; 12(1).
Lima JP, Abreu DPG, Bandeira EO, Brum NA, de Mello MCVA, Varela VS, et al. Letramento funcional em saúde e fatores associados em pessoas idosas. Cogitare Enferm. 2019; 24: e63964.
Santos EP, Morais RT, Bassan DS. Saúde e vulnerabilidade social: discutindo a necessidade de ações comunitárias com base em indicadores sociais no município de Taquara/RS. DRd Desenv Reg Debate. 2020; 10: 885-904.
Palmeira NC, Moro JP, Getulino F de A, Vieira YP, Soares Junior A de O, Saes M de O. Análise do acesso a serviços de saúde no Brasil segundo perfil sociodemográfico: Pesquisa Nacional de Saúde, 2019. Epidemiologia e Serviços de Saúde [Internet]. 2022; 31: e2022966.
Passamai M da PB, Sampaio HA de C, Dias AMI, Cabral LA. Letramento funcional em saúde: reflexões e conceitos sobre seu impacto na interação entre usuários, profissionais e sistema de saúde. Interface - Comunicação, Saúde, Educação [Internet]. 2012; 16(41): 301–14.
Panhoca I. Grupo terapêutico-fonoaudiológico: aprofundando um pouco mais as reflexões. Distúrbios da Comunicação. 2007; 19: 257-62.
Paulo Freire. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz E Terra; 1997.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Guia prático do cuidador. Brasília, DF: MS, 2008.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Ana Caroline Giusti de Oliveira, Carla Salles Chamouton

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.